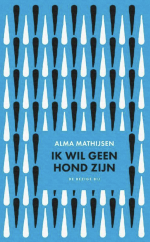A casa tinha uma porta de carvalho e uma fachada imponente. Não havia nomes na campainha. David demorou um pouco a descer e eu fui olhando a rua à minha volta. Era calma e branca, não se comparava com o bairro ao pé do canal onde a Sam e eu morávamos. Eu oscilava entre o devaneio e a irritação, como me acontecia muitas vezes quando era confrontada com coisas que não me podia permitir.
Ele abriu a porta e sorriu-me. Tinha a camisa aberta. Eu subi as escadas atrás dele e fui novamente envolvida pelo cheiro dele: nozes e terebintina. O atelier estava tão desarrumado como da outra vez, mas havia alguma coisa que lhe dava um ar menos sombrio, embora não soubesse se era provocado pela luz do dia ou pelo facto de quase todas as pinturas estarem agora viradas para a parede. Só se via uma pequena paisagem florestal, ao lado das garrafas junto da janela.
David caminhava pelo espaço, concentrado, como se eu não estivesse ali. Deu a volta a um cadeirão antigo e com um gesto de aprovação bateu no assento, um som oco de molas lá dentro. Arrastou um cavalete até ao cadeirão, puxou uma mesinha com pincéis e lápis e sentou-se num banco alto. O cavalete estava tão salpicado com tinta que parecia coberto de caca de pássaro. Tirou uns pioneses de uma tampinha e espetou umas folhas de papel na madeira. Trauteou qualquer coisa, contrariado, levantou-se, virou o cadeirão, colocou um espelho ao lado e sentou-se. Parecia que estava a preparar uma cena de teatro. Tinha as mangas arregaçadas e eu via os seus braços e pulsos bem formados.
– Estás com frio?
Eu ainda estava com o casaco posto e a mala ao ombro, sem consciência alguma da temperatura que estava.
– Pus o aquecimento no máximo.
Depois desta observação ocupou-se com os lápis e os pauzinhos de carvão. Não era antipático mas estava ausente e eu não podia adiar mais: esperava-se alguma coisa de mim.
– Tens um pouco de água que me possas dar?
Ele foi buscar uma garrafa, encheu um copo e voltou a sentar-se. Eu não toquei no copo, ofendida, com a sensação de que ia ter de enfrentar tudo sozinha.
– Já está – disse ele, – estou pronto.
Apontou para um biombo no fundo do atelier. Tinha um roupão pendurado em cima. Senti-me sem forças. Inspira, expira. Fui para trás do biombo. Desapertei os sapatos, tirei as calças, a camisola e a roupa interior e coloquei tudo num montinho. Vesti o roupão demasiado grande e fui-me sentar no cadeirão enquanto ele continuava a afiar os lápis. Tudo isto tinha algo de caseiro, mas também um perfume de perigo e debaixo das axilas o tecido ficou molhado de transpiração.
David apontou para o roupão.
– Queres que fique de pé? – perguntei.
– Sim, talvez, para começar.
Os meus movimentos pareciam ter ganho vida própria. Levantei-me às sacudidelas.
– Ficar só de pé é bom.
– David... – comecei.
Desatei a transpirar de tal maneira que as plantas dos pés se colavam ao chão de madeira. Ele estava sentado a dois metros de mim, no seu banco de pintor, com o cavalete entre nós. Pela primeira vez toda a sua atenção se dirigiu para mim. Quando disse o nome dele, o seu olhar tornou-se ríspido e eu soube que tínhamos ido longe demais.
Com os dedos frios abri o roupão e coloquei-o o mais descontraidamente possível em cima do cadeirão. Um vazio quente em cima da pele. A minha caixa torácica subia e descia e por um instante eu não tinha peso. Não podia parar nessa nudez, só podia refugiar-me no olhar dele que percorria o meu corpo de alto a baixo. Não acontecia nada. Uma gota de transpiração correu pelas nádegas abaixo. Estava à espera que a minha angústia fosse crescendo, mas não aconteceu, desceu até ao meio do tórax onde se instalou como água estagnada.
Ele pegou nuns paus de carvão e começou a esboçar com gestos largos e lentos. O ruído do esfregar do carvão no papel. O braço dele subia e descia em cima do papel que estava virado para mim. Tinha um ar agitado, as narinas muito abertas.
– Fazes o favor de não me olhar tão fixamente?
O meu olhar desceu até ao chão.
– Podes voltar a sentar-te no cadeirão.
Avancei com passos colantes para o maple. Ele soltou a folha onde tinha desenhado e a sua mão começou imediatamente a fazer gestos redondos na folha de baixo.
Estiquei as pernas por cima de um dos braços do cadeirão e tentei dominar a respiração. O veludo do cadeirão estava gasto em vários sítios e mordia-me a pele. Enterrei-me um pouco mais no cadeirão. Os meus olhos examinavam o espaço à procura de um ponto de apoio, alguma coisa para onde pudesse deslocar a minha atenção para deixar de sentir o olhar de David.
As garrafas à frente da janela lançavam uma luz verde no chão de madeira. Não sei o que despertou a recordação, essa cor ou talvez o colchão que estava deitado no chão um pouco mais longe? Pensei de repente na cama dos meus pais onde brincava muitas vezes em criança. O velho colchão de molas, os lençóis e as almofadas magras. O cheiro familiar mas fascinante, os objetos na mesa-de-cabeceira, tampões de cera gordurosos para os ouvidos, fósforos, um frasco de óleo de massagem coberto de pó. A cama de duas pessoas adultas. De onde é que isto vinha? Era uma imagem antiga, não sabia que ainda mexia dentro do meu corpo.
Afastei a recordação e foquei-me na paisagem florestal ao lado das garrafas. Três troncos de árvore. O tronco mais afastado percorria o centro da tela e os outros dois estavam do lado esquerdo, com a luz por trás. Faias, pensei, eram lisas e musculadas e as folhas eram dum verde quase transparente. Centrei a minha atenção na imagem começando por um canto e fui subindo pela casca, com a sensação de estar em terreno familiar. Mas não funcionava, eu não conseguia entrar. A ilusão da imagem era perfeita e as árvores espantosamente familiares, mas pareciam estar muito longe. Percebi que estavam majestosamente sós. Era devido à moldura, ou nunca antes me tinha apercebido disso? Tentava lembrar-me dos bocados de floresta lá de casa, das faias na orla do bosque junto à nossa rua. Foi assim que ele viu isso, pensei e fui outra vez puxada para o ruído do esfregar ao meu lado.
Quando David se levantou e se dirigiu para o cadeirão, estava quase completamente escuro. Não mexi um dedo. Ele tirou o roupão do apoio para os braços e cobriu-me com o tecido. Era um gesto paternal mas mais do que isso, tive a sensação que ele queria que eu estivesse coberta. Havia cinzento nos pelos dos seus antebraços e eu cheirava a sua proximidade.
– Peço desculpa – disse e enfiei as mãos pelas mangas, – estava tão nervosa, nem sequer saí do cadeirão.
– Não faz mal. É a primeira vez.
Ele acendeu a luz, levou à boca a garrafa com água e bebeu grandes golos.
– Mas isto adianta-te alguma coisa? – perguntei.
– Sim. E a ti?
Não sabia o que responder. Senti-me desiludida e fui vestir-me para trás do biombo. Depois passei pelo cavalete. Queria ver os esboços, mas já não estava lá nada. Só os pioneses ainda estavam na madeira.
– Queres cá voltar no domingo que vem?
Ele desceu as escadas atrás de mim.
– Não sei – disse eu junto à porta da rua, – penso que isto não é para mim. Por que é que não pedes à Sam?
– Vem na próxima semana.
Tinha um envelope na mão estendida.
– Vejo-te no domingo – disse eu.
Sem aceitar o dinheiro, pus-me a andar. Andava depressa, rente às casas e apertava as chaves entre os dedos da minha mão saudável.
Algo da imagem florestal tinha ficado. Em casa enrolei-me na cama e em pensamentos saí da nossa rua, com o meu pai, pelo caminho asfaltado que levava ao bosque. A interioridade. Levava sempre algum tempo antes que os sons surgissem, o sussurro e o estremecer, nos arbustos e mais acima, nas árvores. O caminho serpenteava à nossa frente, aqui e ali conseguia distinguir-lhe um pedaço através dos fetos e dos arbustos. O meu pai caminhava com decisão, os seus passos vibravam na terra mole. Era reconfortante andar atrás dele e ver os seus movimentos. Nos primeiros dias depois da morte da minha mãe ele não tinha saído de casa. Eu tinha medo da tristeza dele e entrincheirava-me no meu quarto. Quando tinha fome, ia à socapa à cozinha e arrancava bocados do pão – era demasiado pequena para utilizar a máquina elétrica de cortar o pão – enquanto ele estava à mesa curvado como uma folha seca. Na segunda noite fui ao pé dele para lhe dar um beijo, mas a sua cara tinha-se transformado quase num espetro.
– Pai – disse-lhe, mas ele nem me olhou e eu subi as escadas e embalei-me a chorar.
Quando, no dia seguinte, ele tirou a bengala do vaso junto à porta onde se guardavam os chapéus-de-chuva e anunciou que ia dar un petit tour, entrei em pânico.
– Posso ir contigo?
Quis barrar-lhe a porta. Pensei que ele não voltaria se eu o deixasse sair sozinho. Mas surgiu na cara dele uma gratidão hesitante e, lado a lado, entrámos pelo bosque adentro.
Nesses passeios eu mexia-me o mais silenciosamente possível. Para não perturbar a vida da floresta, os animais e também os seres mágicos cuja presença adivinhava, mas nos quais não me atrevia a pensar com medo de lhes chamar a atenção. Procurava observar e guardar dentro de mim o máximo de coisas que podia, para nos meus sonhos acordados poder voltar de novo a passear ao longo desse caminho, independentemente do que corresse mal no mundo exterior. Na minha imaginação passearia muito devagar, um passo, olhar, um passo, escutar. Iria soltar-me do chão do bosque, movimentar-me através da abóbada de verdura e espreitar por cima do campo enorme e verde dos cumes. E à noite na minha cama o pensamento: como estaria nesse momento o bosque de faias, o que é que estaria a mexer entre os troncos das árvores e nos caminhos?