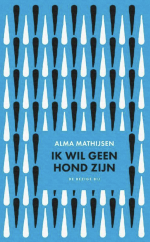Casablanca, 1954
Ela filtra o ruído das crianças a brincar lá fora e todos os dias guarda alguns sons aos quais se agarra obstinadamente. Colhe os poucos sons que penetram através das paredes. Passados alguns meses já conhece os vizinhos todos, embora nunca saia do quarto. Sabe que estão sempre a aparecer credores em casa dos vizinhos do lado, mas não adianta porque o homem não quer pagar. «Nem que me arranquem primeiro os órgãos do corpo e me matem depois» é o que o ouve dizer à mulher depois de os credores saírem. Quando ouve estas coisas tem a sensação de ser um elo na história e nos segredos de outra pessoa. Em frente da sua casa mora um homem muito velho que todas as manhãs põe um banquinho na rua, no meio das crianças que estão a brincar, e que grita toda a tarde que elas perturbam o seu descanso e que os jovens de agora já não têm vergonha. Imagina que se vai sentar no lugar dele e que olha pela janela para dentro da sua própria casa ou imagina que é uma daquelas crianças e tenta descobrir a melhor maneira de irritar o homem. Agora os rapazes chutam a bola contra uma perna do banco. Podiam ter mais pontaria. Há algumas semanas começou a falar com essa gente. Em pensamentos. Fala-lhes da aldeia onde nasceu e da viagem que fez, acena com a cabeça, com empatia, troça ou indignação quando se queixam dos credores, do velho resmungão e das crianças sem respeito: «Mas são crianças! Precisam de espaço para brincar e aqui na cidade não há assim muito espaço. Vocês encheram tudo com prédios. Põe o teu banco uns metros mais além!» Ou: «Podes roubar-lhe o banco quando ele for lá dentro buscar um fósforo para acender o cigarro!» Não quer viver grandes acontecimentos e não poder falar com ninguém sobre eles, não teria sentido nenhum. Atribui a cada um deles uma voz e características diferentes, um tom de voz sempre diferente. Conta-lhes coisas sobre si.
Ela conhece o inferno dos sermões de sexta-feira na aldeia, um lugar onde a dor nunca se desvanece, onde as coisas só se agravam quando se pensa que o pior já passou. Essa mesma dor está agora entre as suas pernas. Primeiro pensa que os seus membros se incendiaram, mas quando olha não vê fogo. A dor atravessa-a para baixo. Pela primeira vez depois de meses de silêncio sabe novamente como soa a sua voz. Não passou mais do que meio dia desde que o marido saiu. Daqui a dia e meio ele vai chegar a casa da mãe dela para lhe contar que está tudo bem com ela quando na realidade ela já estará morta. Ela grita e grita, a sua voz enrouquece, depois fica bloqueada na garganta, já não consegue tirar a dor do seu corpo gritando. O mundo esbate-se e, por um instante, não se lembra em que posição está em relação ao chão e ao teto. Aparece um vulto por cima dela. A vizinha de cima afasta os filhos, leva-a para o tapete, põe-lhe uma almofada debaixo da cabeça, põe água a ferver, grita pela janela que alguém tem de ir buscar Lella Cherki. Lella Cherki? É a parteira. Por que é que se há de ir buscar Lella Cherki? Ela está a morrer.
Já não sabe quanto tempo levou para compreender a vida. Uma mulher. Um homem. Uma criança. O rés-do-chão de uma casa comprida. É tudo muito simples. A dor desaparece devagar. Tem a cabeça a fumegar, sente tonturas, sono. Nem sequer alargou durante a gravidez. A bebé escondeu-se dentro de um corpinho de criança.
Tem novamente sangue entre as pernas. Não é uma ferida que dói apenas um instante, que se tapa, de que se aperta a pele com um penso para que passadas umas horas apareça uma crosta e onde depois cresce uma pele nova. Esta dor não passa e aí estará aberta para sempre. Nunca deixará de ter sangue mesmo que se lave vinte vezes por dia. Mesmo assim insiste em fazê-lo. Enquanto se lava não ouve a bebé chorar. Os filhos da vizinha de cima querem tomar o pequeno-almoço. Batem-lhe à porta fechada, mas ela não abre. Quando a bebé para de chorar, ouve a vizinha correr pelas escadas de madeira abaixo e sussurrar o nome dela através da porta. A vizinha de cima quer ajudá-la com a primeira filha, ensinar-lhe como deve fazer: ser mãe. Mas ela mantém tudo fechado, não quer ver ninguém. Está tudo sujo. Não pode fazer chá numa casa que cheira a secreções, sangue e placenta. Apressa-se a queimar umas folhas de hortelã no fogo. Sufoca no fumo porque fechou a única janela e a única porta do quarto. A vizinha de cima bate à porta. A bebé berra. Mas ela mantém todas as janelas e portas fechadas.
Quando a cidade mergulha no sono, abre a janela tão silenciosamente quanto possível e põe a cabeça de fora. A luz das estrelas ainda não se dispersou, consegue ver astros no céu. Queria sonhar com as estrelas, mas à noite está sentada nos ombros de um dragão prateado que voa alto demais por cima da sua aldeia. Quer pedir-lhe para descer e para se inclinar um pouco para a direita para poder espreitar para dentro da casa da mãe, mas não consegue emitir nenhum som. O dragão voa cada vez mais alto, até que o solo desaparece. De duas em duas horas acorda assustada com um barulho. Quando percebe que é a bebé aos berros volta a adormecer despreocupada.
Lava os tapetes de dois em dois dias. Esfrega as panelas com lixívia até que surja uma camada nova por baixo da ferrugem. Lava as esponjas antes de esfregar as panelas com elas. Lava os legumes sete vezes antes de os utilizar. Lava a torneira da parede antes de lavar os legumes com a água. Nunca enxuga os copos por dentro, mesmo que tenha lavado os panos de cozinha três vezes. Pelo sim pelo não. Coloca-os de cabeça para baixo até que a água escorra e leve a sujidade consigo. Quando quer beber, cheira primeiro o copo, antes de o limpar só do lado de fora com um pano. Assim leva horas a preparar o pequeno-almoço e, quando acaba de tomar o pequeno-almoço, pode começar a preparar o almoço e, ao acabar finalmente o almoço, pode preparar o jantar. À noite adormece imediatamente.
A meio da noite. O choro parou um instante. É a sua oportunidade de apanhar um pouco de ar fresco, pensa. A esta hora a vizinha de cima já não vai descer. Puxa o ferrolho e abre a porta, primeiro só uma frincha. Lá está ela. Esteve o tempo todo sentada nas escadas. A vizinha de cima bloqueia a porta com o pé para impedir que a feche na cara dela. Quando a vizinha olha para a criança num canto do quarto, é como se ela também visse a sua filha pela primeira vez, embora a tenha deslocado muitas vezes para limpar por baixo do corpo da bebé e nos cantos do quarto. Depois fez tudo virando costas à criança. Só olhou pela janela para fora. Tem um zumbido nos ouvidos porque a criança chorou dias a fio sem parar e agora está um silêncio de morte.
«O que é que tu fizeste? Nunca lhe mudaste as fraldas? Nunca lhe deste o peito? Morreu. Ela morreu.» Ela baixa os olhos e vê as manchas húmidas no vestido, à altura das mamas. A vizinha atira as mãos ao ar e bate alternadamente nas bochechas e nas suas próprias coxas enquanto berra. Passa muito tempo antes que a vizinha agarre a sua própria cabeça entre as mãos e tente acalmar-se sentada no chão, como um alfaiate. Depois põe água a ferver, agarra num balde e lava a negligência toda do corpo da bebé. «Diz-lhe que ela nasceu morta.» A vizinha chama o marido e no meio da noite partem para o cemitério. Se a vizinha e o marido pagarem o suficiente, os coveiros não vão fazer perguntas.
Mas ela esqueceu-se de dizer aos vizinhos que têm de pedir um túmulo de adulto para a menina bebé. Ela ainda tem de se tornar mulher lá em baixo. Ela não sabe como é lá em baixo mas é melhor do que aqui. Antigamente enterravam as meninas vivas. Ela deixou-a morrer primeiro. Morreu agora, só uma vez, não uma e outra vez de novo, ao sair da aldeia, ao acenar adeus à mãe, ao estar deitada debaixo de um homem que é tão velho que ele próprio cheira a morte. Vai levar um ano ou dois mas depois nunca mais se vai lembrar disso, ainda que passado um ano ou dois ela ainda esteja presente em tudo o que faz. Quando comer panquecas e já estiver cheia, vai comer mais uma para ela. Vai manter as futuras filhas o mais possível dentro de casa, vai odiá-las porque a vida delas não se parece em nada com o que ela própria passou. Vai odiá-las porque não morreram no berço, porque não casaram com homens já grisalhos, porque não foram espancadas e porque simplesmente podiam sair à rua. Vai odiá-las porque terão outras coisas em que pensar, a desigualdade salarial e o assédio na rua, mas isso não são coisas para se queixar. Que uma vida de mulher não é igual a outra, saberá mais tarde. Mas agora é uma evidência que devia deixar morrer a sua filha. Não saberia por que deveria ter deixado viver a menina bebé.
O marido volta da aldeia com barris de azeite que põe no quarto, que é demasiado pequeno. Ela ajuda-o a carregá-los porque ele tem uma dor nas costas. Todas as manhãs e todas as noites ela limpa o pó dos barris até que ficam a brilhar. Trazem o cheiro de casa. Ele já não se deita em cima dela, porque lhe arde ali em baixo. Ele não fala disso.
Quando volta a dor, agarra numa garrafa de azeite, aperta-a contra si e esmaga-a. A cara dele é a de uma mulher que está prestes a dar à luz pela quinta vez e sabe o que a espera. Quando a dor persiste, enrola-se como um recém-nascido. No chão, no meio do azeite derramado, torce-se em todas as posições mas em vão: a dor não desaparece.
Ela vai buscar panos lavados para limpar o azeite do chão, em silêncio, e ocupa-se no resto do dia a lavar os panos e o tapete, a estendê-los para secarem e, como o azeite se agarra aos panos e ao tapete, volta a lavar tudo no dia seguinte. Não se incomoda com a dor dele, ela também sofreu e sobreviveu. A presença dele incomoda-a. Ele está mais tempo em casa, trabalha cada vez menos. Já não consegue distribuir o azeite pelas lojas de Casablanca. Às vezes vai à casa de banho. Dá murros na porta e geme entre dentes, ela ouve-o soluçar.
Vê-o definhar, muito depressa. Acontece mais vezes a homens dessa idade, mas a mãe dele continua a fazer-lhe beberagens, porque não quer ver que ele está a morrer e que nenhuma poção mágica pode remediar ou atrasar isso. Tempo é tempo. Menos de meio ano depois está morto.
À saída da aldeia fazem um lugar para ele na terra. É humilhante ver de quão pouco um homem adulto precisa quando morre, o que resta de uma vida humana. A filha morta está enterrada duzentos quilómetros mais a norte sem que tenha aprendido a falar, ele nunca irá encontrá-la, ela não vai poder contar, nunca aprendeu a falar. O que aconteceu foi esquecido, é corroído debaixo da terra pelos vermes e pela humidade, daqui a quarenta anos a terra será revolvida, serão ambos pó na terra, vai fazer-se lugar para túmulos novos.