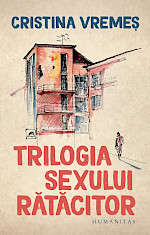No comboio, na última parte da viagem, tinha visto pela janela pegajosa as bordas do céu. Levantou-se para ver também do outro lado da carruagem e aproximou-se do homem adormecido com a cara escondida atrás do cortinado e com a mão direita firmemente pousada na pequena mala de viagem, que estava no assento ao lado. Sim, da sua janela via-se o mesmo. Um cobertor compacto, azul índigo, num plano paralelo ao campo extenso, cheio de molhos secos. E na sua orla, um azul aberto e claro, como um mar afastado, suspenso entre o céu e a terra.
Por cima da camada índigo, estava sol.
Quando se levantou, de repente sentiu o burburinho da carruagem, as pessoas tiveram a sensação de que se estava a preparar para sair, e assim como após um sinal, começaram todos a tirar as malas para baixo, a vestir-se, a abotoar-se.
Voltou a sentar-se e verificou o telefone. Três chamadas perdidas do pai e uma mensagem de voz:
— Bogdan, o que eu te queria pedir...
Pedia-lhe novamente cem lei emprestados, a taxa de inscrição para um concurso de pesca.
O cardiologista tinha-lhe recomendado que fosse pescar.
E em casa, no quintal, estava ao ar livre, não pelo ar, mas pelo silêncio.
O cardiologista não fazia a menor ideia de quanto silêncio tinham eles.
Bogdan tinha dito que iria passar por casa dos pais no regresso de Bucareste. Viviam muito perto da estação de comboios. Tinha de reinstalar no telefone do pai a aplicação para a câmara de vigilância do quintal.
Depois de sair, olhou novamente para as faixas do céu, mas não as voltou a ver e, de repente, sentiu-se abafado, tapado pela camada, agora preta, que estava mesmo por cima do telhado da estação.
Foi a pé pelo bairro em que tinha passado a sua infância e passou pela fábrica de leite, abandonada, de onde vinha sempre um odor nojento a baunilha, porque aí, não se sabe em qual dos vidros foscos, para lá de uma porta enferrujada, naquela ruína, se encontrava um “laboratório” de confeitaria. A prova disso era o eterno aroma doce e também a eterna matilha de cães, provavelmente alimentados durante toda a vida com bolachas. Uma matilha muito grande apenas para guardar um laboratório de doces.
Bogdan tinha estado numa feira de autocaravanas em Bucareste, para ver uns veículos para o transporte de porcos vivos. Era veterinário numa quinta do concelho e há já uns anos que queria desligar-se, como ele dizia, ou seja, começar algo por sua conta. Gostaria de gerir um pequeno negócio em que não fosse preciso trabalhar diretamente com os animais e em que tivesse de usar os detalhes administrativos que tinha apanhado nos doze anos de trabalho na quinta, uma das maiores do país.
Mas a situação era incerta, por causa da peste suína que tinha lançado um grande pânico, desde os homens da quinta aos aldeões que criavam um porco ou outro e que agora estavam a sacrificá-los desesperadamente.
Por isso, esta feira, pela qual ele tinha esperado uns quatro meses e que tinha ido apenas por inércia, parecia-lhe agora uma piada. A sua presença lá era uma piada. É que num mundo sem doenças, seria praticamente impossível ter um crédito para os carros.
Estava cansado e inquieto e as preocupações do pai sobre os lugares de pesca dele, irritavam-no. O velhote não pedia muito, só uns cem lei de vez em quando, que pedia sempre às escondidas, sem a mãe saber, sabe-se lá porquê.
Quando chegou à frente do portão, Bogdan constatou que já não tinha a chave deles na argola. Lembrou-se de quando a tinha retirado, mas não se recordava do que tinha feito com ela. Tocou à campainha, olhou através da cerca e viu a mãe a sair rapidamente pela porta, correndo, com o robe grosso de veludo aberto, o robe que punha quando saía da casa.
— Não corras, isso enerva-me! gritou ele para o portão verde em ferro.
A sua mãe abriu-o contente.
— Esqueceram-se de que eu vinha?
— Como poderia esquecer! disse ela.
— Disse-te para não correres assim! Posso esperar um minuto, não há pressa.
— Mas tu não tens a chave? perguntou-me ela.
— Esqueci-me dela, disse.
A mãe abraçou-o com força e fechou os olhos- era baixinha e chegava-lhe até ao peito, ele baixou a cabeça e olhou para os seus cabelos brancos e escassos, em que se sentia a frescura do champô.
— Já chega, pronto, disse ele.
— Porquê? ouve-se a voz da mãe abafada pelo seu casaco.
Era março e estava frio.
Bogdan sorriu e deixou-a ficar mais um pouco.
Já não passava pela casa deles há muito tempo, embora estivesse a viver na cidade. O pai ainda o visitava, mas a mãe nunca o tinha visitado nos últimos dois anos, desde que casou com a Alina.
— Onde está o pai? perguntou ele. Não posso ficar muito tempo.
— Acho que está no ginásio, do Mircea, disse ela.
*
Vestido com um fato de treino grosso, com casaco e com um gorro na cabeça, Grigore sentou-se no seu banco preferido, em frente ao Danúbio. Estava vento e ele gostava de ficar de olhos fechados a ouvir o chiar dos pontões. Ao longe ouvia-se o barulho metálico do estaleiro. Ainda se ouviam as gaivotas. E também as ondas.
Aí ouvia-se tudo na perfeição, só deste banco. Era o último banco da falésia, os outros iam a subir por aí acima, até à piscina abandonada, numa zona com esplanadas espaçadas onde também chegava um pouco da agitação da cidade. Havia jovens de patins em linha e pessoas a passear o cão.
Todas as semanas ia visitar o seu amigo Mircea, amigo duma vida, que era treinador de boxe num ginásio perto da falésia. Trabalhava como voluntário com algumas crianças.
Mircea tinha sessenta e oito anos de idade. Grigore ia fazer setenta.
Se o vento estivesse a soprar – e aí, à beira da água, soprava quase sempre um vento maravilhoso – Grigore descia a rua pela calçada, em direção ao prédio da gare fluvial, que durante muito tempo esteve em ruínas, e depois de renovado, tornou-se num casino, e agora estava fechado a cadeado. Passava ao lado de uma cruz adornada com flores de plástico, em frente da qual se encontrava um chafariz que, estranhamente, estava sempre a funcionar. Se não houvesse ninguém a vê-lo, fazia o sinal da cruz, bem grande e bebia do chafariz, como se fosse água benta.
Grigore com a idade evitava as pessoas.
Tinha muitos gestos que fazia às escondidas. Eram coisas pequenas e insignificantes e só por isso era-lhe fácil escondê-las, mas tinham-se juntado muitas.
Não queria que julgassem que perdera qualidades.
Tinha sido corajoso na juventude, mas a sua coragem fora limitada. Tinha-se acabado depressa.
Não era devoto, mas sentia emoção quando passava pela cruz. Um respeito por algo ainda maior do que ele, uma força que um dia havia de se lhe mostrar em forma de remoinho e que o iria elevar para o céu. Era assim que ele imaginava a morte. Como uma ascensão tumultuosa e assustadora, mas uma elevação, não um enterro. Uma pulverização na luz, não uma decomposição na escuridão.
Às vezes ouvia um zumbido nos ouvidos. Às vezes só no ouvido direito, outras vezes nos dois ouvidos. Teve-o a vida toda, deixava-o e depois regressava. Ouvia-o especialmente à noite, antes de se deitar, quando se enfiava na cama e apagava a luz e havia tanto silêncio que o zumbido lhe enchia a cabeça. Na maioria das vezes era como um zunido industrial monótono, como um coro de equipamentos grandes e pesados que trabalham. Outras vezes era como o correr de uma forte corrente, algo precipitado e perigoso, que tinha a força de provocar danos irreparáveis. De destruir qualquer coisa no seu crânio.
O barulho tinha regressado há algumas semanas e quanto mais pensava nele, mais forte ele era. Acordava instintivamente a tapar os ouvidos com uma almofada ou com as mãos, mas sabia que ele não vinha do exterior e que pressionar a cabeça, só fazia apertar o laço à volta do pescoço daquele monstro que uivava ainda mais alto.
Nunca foi ao médico.
Havia problemas maiores no mundo.
Tinha levado muita pancada na cabeça na juventude, era impossível não ter ficado com nada.
Ali, ao pé do Danúbio, havia silêncio e ao mesmo tempo barulho suficiente para não ouvir mais o interior da própria cabeça e isso agradava-lhe.
— Pai, porque é que saíste de casa, não ficou combinado que eu vinha? perguntou-lhe Bogdan.
— Já não sabia exatamente a hora a que chegavas, disse-lhe em pânico. Espera por mim. Espera por mim!
— Deixa-te estar, não é preciso, disse-lhe o filho. Deixo-te o dinheiro no mesmo sítio, sabes muito bem onde. Na casota do cão. E venho noutro dia por causa do telefone. Estás no navio, onde é que estás?
— Está muito vento, disse Grigore. Porque é que não esperas por mim? perguntou-lhe ele desapontado.
— Pai, estou cansado.
Grigore não disse mais nada.
— Entendes que estou cansado? perguntou Bogdan.
E Grigore disse que sim, que acredita.
*
A rua Traian descia desde a Praça Traian até ao Danúbio. Tinha algumas centenas de metros, não era uma rua comprida, mas era muito diferente de uma ponta até à outra. Começava no centro e na parte de cima tinha alguns prédios velhos e bonitos que tinham sido recentemente renovados e por isso é que estavam limpos. Só que, nesta cidade, a renovação não dura muito tempo, a pintura começa a descascar-se rapidamente. Quando a toda rua estiver renovada, provavelmente na parte de cima vão estar a estragar-se novamente as fachadas. Aqui a ruína não se deixa esconder.
Os prédios de cima tinham pertencido a instituições que já não existiam e, embora tivessem um bom aspeto, estavam vazios. Seguia-se uma parte com alguns prédios decentes, e depois, muito rapidamente, entrava-se numa zona decrépita da rua, com casas abandonadas, sem nada, e lotes cheios de lixo. Mesmo no fim, um edifício alto, socialista, também abandonado, destoava completamente da paisagem.
Depois disso uma cruz com um chafariz e, um pouco mais abaixo, o Danúbio, que corria sempre com uma velocidade estonteante, da direita para a esquerda, mesmo que pela leitura do sítio, se estivesse à espera que corresse ao contrário.
O Danúbio, visto após um período em que se estivesse longe dele, mudava completamente por alguns instantes a perceção do espaço. Corria ao contrário. E corria estranhamente rápido para aquele lugar imóvel em que se mostrava.
A sala de boxe onde o Mircea dava aulas às crianças era nesta zona deteriorada da rua, no rés-de-chão de uma casa de primeiro andar. Mesmo por cima da porta com grades havia uma varanda que parecia um bolo, com todas as camadas à vista, porque dele saíam os tijolos e dos tijolos saía pó encarnado. Do chão da varanda crescia uma árvore fininha e jovem e, apesar do espaço por cima da sala estar habitado, as pessoas não quiseram arrancar a árvore, que parecia ser uma albizia.
Sempre que visitava o Mircea, Valer saía do autocarro n.º 4 na paragem em frente ao hotel Traian e depois ia a pé pela rua Traian. Sentia já a corrente provocada pelo rio ainda escondido e olhando para baixo, ao longo da rua, sonhava de olhos abertos como seria se essa rua tivesse o seu nome.
Queria muito ter o nome numa das ruas da cidade. Merecia isso.
Olhava para as placas dos prédios e não precisava de fechar os olhos para ver lá escrito “Valer Pataki, pugilista”. Ou: “Valer Pataki, pugilista campeão”. Ou: “Valer Pataki (1952- ), campeão de boxe”. Não sem o ano de nascimento, para não se criar a expectativa para o ano da morte. O anjo negro não tem de ser invocado, pensava ele, para não se recordar.
Mas agora, ao descer pela rua Traian em direção à sala de treino, fixava-se-lhe na mente uma nova ideia: “Valer Pataki, pugilista e escritor”.
O seu livro de memórias estava quase pronto. Dentro de uma semana iria à tipografia levantar as caixas.
Queria um lançamento espetacular, num dos maiores restaurantes da cidade, onde iria convidar ex-pugilistas da sua geração do país inteiro, dar autógrafos, chamar os media e organizar uma gala demonstrativa com juniores. Por isso tinha de falar com o Mircea.
Este lançamento tinha-se tornado no seu maior sonho há já alguns anos e estava prestes a realizar-se. Tinha vendido um terreno da aldeia para isso.