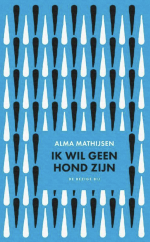Quando vi o Andrei afastar-se, comecei a gostar dele. Vi a sua mochila preta a abarrotar que ele transportava como um escudo sobre as costas. A mochila estava tão cheia que se percebia logo que ele não estava a caminho de nada, que não ia a lado nenhum. Se tivesse ido para as montanhas assim, a mochila ia desequilibrá-lo, podia puxá-lo para trás, e lançá-lo no abismo. Os fechos éclair da mochila estavam velhos e parecia que iam rebentar a qualquer momento. Eu imaginava que a mochila ia abrir-se de repente, como um airbag, uma almofada de ar que começava a crescer, cada vez maior, e que se transformava num paraquedas que o puxava para cima e o levava para onde queria ir.
No primeiro ano da escola secundária todos os alunos andavam com mochilas pesadas às costas, ligeiramente inclinadas para trás, as correias das mochilas ainda compridas à volta dos ombros. Na etiqueta toda a gente escrevia o seu nome. Alguns escreviam o seu nome não no interior mas do lado de fora da mochila, com uma caneta de feltro, como se quisessem defender a sua propriedade, balizar um território. Colegas de turma que pertenciam ao mesmo grupo de amigos escreviam o seu nome nas coisas uns dos outros. Quem não escrevia o nome na capa de alguém era como se não existisse. Na sala de aulas, o meu olhar cruzava-se com o olhar do rapaz que estava sempre calado. Era o único com penugem no queixo e tinha sobrancelhas escuras, que pendiam como telheiros por cima dos olhos.
Agarrei na caneta de feltro dele e escrevi o meu nome no seu estojo. Ele pegou na minha caneta e escreveu o seu nome no meu estojo. Tudo tinha de ser marcado.
Deixávamos o nosso nome em todo o lado. Nos braços e nas pernas uns dos outros, nas solas dos sapatos, nos assentos do autocarro, nas portas das casas de banho das meninas, nos bancos do ginásio, nas paredes ao lado do portão da escola. Deixávamos o nosso nome como prova, para mais tarde, quando seguíssemos o nosso caminho sozinhos. Eram gritos para que não nos esquecessem, era um pacto. Enfiávamos mensagens nos livros uns dos outros, eu enfiava poemas nos ténis dele, guardava bilhetes de autocarro e de comboio. Tínhamos a ideia de escrever uma carta, enterrá-la na areia e desenterrá-la mais tarde. No mundo tudo estaria às avessas, mas a nossa letra estaria lá, um pouco desvanecida, mas ainda legível.
Conheci Andrei numa praça de Bruxelas. Vestia uma camisa branco sujo e uma gravata azul. Umas calças de fazenda como as que os homens usavam há cinquenta anos.
Sapatos de verniz. À primeira vista parecia um cavalheiro à moda antiga. Podia trazer uma pasta, uma bengala ou um monóculo. Perguntou-me se eu tinha um minuto. Estava à procura de alguém que falasse neerlandês. Os olhos dele lembravam-me alguém. Parecia que nos conhecíamos desde há muito mais tempo.
A sua mochila pesada atraiçoava-o, tal como o seu relógio. Era uma coisa de plástico vermelha e velha, um relógio de criança, como aqueles que se tiram de uma máquina de agarrar brindes numa feira popular ou num parque de diversões. Devia ter trazido uma pulseira de ouro à volta do pulso, com vidro verdadeiro, ou aço brilhante, não um mostrador de plástico.
Era um homem com quem eu normalmente nunca teria falado.
Abriu a mochila e folheou uns papéis. Papéis dobrados dentro de papéis, uma espécie de livro feito por ele próprio. Todas as folhas estavam rabiscadas com letras pretas, aproveitando todos os espaços em branco, com apontamentos em diversas línguas. Havia números de telefone e nomes, frases e datas, listas e pontos de exclamação. Pescou um papelinho de entre os papéis e abriu-o.
À primeira não consegui ler. Estava minuciosamente escrito em carateres cirílicos, às vezes riscado, frases ordenadas como se fossem estrofes. As letras não estavam alinhadas. Li algures: “todas as pessoas se tornam irmãos”. Ele apontou e riu-se, falou de Schiller e de Beethoven. Eu tinha pensado que ele queria que eu lhe explicasse uma coisa prática, uma consulta médica, um formulário ou indicações para ir a algum lado, mas era uma tradução de Schiller, feita por ele, em quatro línguas. A Ode à alegria. O hino da União Europeia.
– Tous les humains deviennent frères – murmurou.
– Todas as pessoas se tornam irmãos – disse eu.
– Se tornam ou serão?
– Pode ser das duas maneiras.
– Todas as pessoas se tornam irmãos.
Cantou as palavras devagarinho. Eu ia corrigindo o neerlandês. As frases deslizavam-me dos lábios e Andrei olhava atentamente a maneira como eu mexia a boca, como formava as palavras. Escrevi o texto em neerlandês no seu papel. Ele escreveu a frase em romeno para mim. A mão dele tremia um pouco, hesitante, mas a caligrafia era arrebatada, vibrante. Trocámos os papelinhos. Depois ele escreveu o seu nome no meu papel. E eu o meu no dele, como um ritual silencioso. Quando pus a tampa na caneta, olhei para o relógio no meu pulso e para os ponteiros prateados que brilhavam ao sol.
– Vou para…
A minha voz ficou presa na garganta. Ia dizer “Vou para casa”, mas no último momento engoli a palavra “casa”. Não houve nenhuma referência a casa nem à cama, evitámos o tema. Ele disse adeus e seguiu caminho, como uma tartaruga, com a mochila preta como uma casa às costas.
No dia seguinte procurei-o em cada esquina. Tinha pensado ir com ele ao museu ou tomar um café. Comecei a acreditar que voltaríamos a encontrar-nos, que o acaso faria com que voltássemos a cruzar-nos. A cidade transformava-se diante dos meus olhos e dividia-se em dois grupos. Nas ruas andavam pessoas com e sem papéis. Não sabia onde poderia encontrá-lo novamente e fui em direção ao centro. Ao lado do parlamento havia homens jovens vestidos de fato. Por cima das suas cabeças flutuavam bandeiras europeias. Traziam um cartão com o nome no casaco, carregavam pastas e falavam inglês. Andavam para trás e para frente junto ao edifício com o telemóvel encostado ao ouvido. No reflexo do edifício dos congressos vi-me a mim própria do outro lado. Os homens mostravam o seu badge na portaria, entravam e saiam do hall, levantavam a mão e entravam sem fazer ruído em táxis, desapareciam atrás de vidros blindados, em direção às embaixadas, aos lobbies dos hotéis ou às mansões.
Uns dias depois recebi um email de Andrei cheio de poemas. Escrevia sobre flores, estrelas, amizade e pássaros. Tinha passado os seus poemas romenos pelo Google Translate e enviava-mos em quatro línguas. Não fazia ideia onde tinha encontrado o meu endereço nem de onde poderia ter enviado os emails.
Na mesma semana, marcámos um encontro na praça. Ele usava outra gravata e trazia na mão umas flores que tinha apanhado. Estávamos sentados num banco e olhávamos para os pombos que voavam por cima de nós. A voz dele era rouca e tremia um pouco, tal como a sua letra.
– Quando vim para cá, tinha sete pens USB, agora tenho quatro.
Mexia na fivela do seu relógio de plástico e olhava para mim de soslaio. Algures pelo caminho tinha perdido três pens, com a sua certidão de nascimento, o certificado da escola secundária e o seu diploma. Havia uma mossa no mostrador. Passava a mão por ele enquanto me contava que tinha adormecido na rua e que tinha sido assaltado.
– Tinha uma chave. Roubaram-ma.
Estava sentado à minha frente e endireitou a gravata e alisou as dobras das calças. Em seguida apontou para os pombos por cima de nós e calou-se.
Só mais tarde é que percebi que a chave era de um cacifo na Roménia, onde estavam todos os seus documentos originais e montes de fotografias, com os seus pais, os avós, os irmãos, as irmãs, as tias, os tios, a sua cara de bebé. Sem essas coisas todas não havia prova da existência do Andrei.
Pensei nos álbuns de fotografias em casa dos meus pais. As últimas fotografias que foram coladas no álbum datavam de quando eu tinha treze anos. Depois disso guardava-se pouca coisa, toda a gente gravava as suas imagens em cassetes de vídeo, de que se perdia o aparelho, em pens que se tornavam ilegíveis, em discos externos que se apagavam por acidente, ou na cloud, impalpável, de que ninguém sabia onde se encontrava. Toda a gente guardava as fotografias no telefone, só para si próprio. As imagens eram sombras, miniaturas que abríamos às quatro da manhã e fechávamos a seguir.
Andrei pediu-me que fizesse uma foto de nós os dois e que a imprimisse para ele. De preferência na praça, ao pé dos pássaros, porque dava bem connosco. “Todas as pessoas se tornam irmãos”, murmurou enquanto fizemos a foto, os olhos cheios de fé. O hino da União Europeia, que sempre me tinha soado leve e alegre, parecia-me agora áspero e cheio de tristeza, como uma breakup song. Desde que encontrei Andrei, ouvia-o em todo o lado. A versão orquestral utilizava-se no Festival da Canção, no campeonato de futebol ou na Festa Nacional. Ouvia a voz de Andrei nos instrumentos de sopro. Ninguém conhecia o texto de cor, só o Andrei.
Do outro lado do canal vi homens com mochilas aos ombros que se arrastavam como tartarugas, mas não iam a lado nenhum. Vestiam várias camadas de roupa, calçavam sapatos gastos e olhavam para o chão em silêncio. Por cima das suas cabeças brilhava o sol. Nos anos anteriores tinham sido tão invisíveis para mim como o ar, nem sequer transeuntes, mas árvores, ladrilhos do passeio, nuvens. Agora via-os um por um. Eram tantos que parecia que formavam uma massa, uma horda, um coro. No reflexo da água via as silhuetas deles. Os homens avançavam lentamente ao longo do cais, nunca olhavam para trás, desapareciam ao longe. Estavam aqui há quanto tempo? Há quanto tempo é que as costas deles não descansavam? Quanto tempo era preciso ficar acordado para enlouquecer completamente?
À noite, na cama, pensava na cara dele. As minhas costas estavam direitas e descansavam no colchão, perguntei-me onde ele estaria agora.
Andrei tinha construído uma barraca por baixo dum viaduto na cidade. Dizia que fazia bem dormir ao ar livre. Nunca o levei para casa. Pensei no que ele tinha dito essa tarde.
– À noite, quando estou deitado de costas, olho para cima e vejo dois pombos.
Beijam-se, ficam juntos, sem que ninguém lhes peça.
O nome dele era Andrei e tinha uns sessenta anos. Dizia que tudo se ia arranjar. Era bibliotecário, químico, operário da construção civil, motorista de autocarros, sem-abrigo e dançarino, fazia piruetas e reviravoltas, saltava para cá e para lá, deixava-se cair de joelhos. Era infinitamente mais forte do que eu. Tinha a força de um cavalo de tiro, um diamante brilhante, vestia uma camisa branco sujo e uma gravata, com uma mochila preta e sapatos de verniz. Tinha a cara dum velho romeno, mas de perto mudava aos poucos, por detrás dos olhos havia fontes de luz, lâmpadas de calor, a boca dele era a boca duma pessoa amada, as sobrancelhas eram sobrancelhas escuras que pendiam como telheiros por cima dos olhos.
Pensávamos um no outro no mesmo momento, tenho a certeza. Pode-se dirigir os pensamentos um do outro, com a condição de se pensar suficientemente um no outro. Se se acordar à noite com a cara de alguém diante dos nossos olhos, pode-se ter a certeza de que o contrário também acontece. Estabelece-se então uma linha direta de um coração para o outro. Às vezes essa linha puxa-me pelo coração. É quando me lembro da mochila do Andrei. Passeia com ela pela cidade. Puxa as correias da mochila e a mala abre-se, explode como um airbag, uma almofada de ar, cada vez maior e maior, não é um paraquedas, é um castelo no ar que o puxa para cima, cantando e rindo acena para mim, todas as pessoas se tornam irmãos, grita, com o meu papelinho nas suas mãos, tous les humains deviennent frères, e ele sobe por cima das ruas de Bruxelas, por cima do parlamento, por cima do canal, por cima dos banquinhos, dos pombos, das árvores, das nuvens, a caminho das estrelas, cantando, acenando.