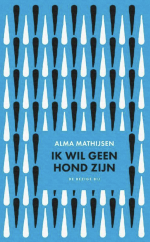Ora, está visto que leva muito tempo para uma cabeça de chuveiro ficar entupida com calcário. Agora que me balanço aqui, com o tubo do chuveiro enrolado à volta do pescoço, meio pendurado no corredor, meio pendurado por cima das escadas, penso: se todos os meus amigos tivessem visto a casa de banho, tinham percebido logo. Se todos tivessem subido uma única vez ao andar de cima, como fez a Ema naquela tarde, teriam olhado para a cabeça de chuveiro, teriam aberto e fechado a torneira, teriam visto a divisória de vidro calcificada do duche, teriam reparado nos pelos da barba feita à pressa no lavatório e teriam pensado: o gajo pirou de vez, temos de salvá-lo. A casa de banho teria sido decisiva, mas olha, já tinha havido também alguns outros sinais de alarme: há anos que deixara de usar calças de ganga, já não aparava as têmporas e já não tinha um corte direito e limpo na nuca mas uma camadinha de cabelo desalinhado que se ia enfiando por baixo do colarinho. Nas fases passageiras em que me sentia um bocado mais animado, na maioria das vezes depois de a Ema ter passado cá por casa sozinha e me ter dito a brincar que tinha um aspeto de vagabundo e que antes não era nada assim, que tinha sempre bom aspeto com o cabelo cortado a rigor, tirava a minha máquina de barbear da gaveta da cozinha – onde a tinha abandonado uns meses antes porque tornar a pô-la na casa de banho me parecia demasiado complicado – e tosquiava uns milímetros. Claro que não ficava bem, mas era melhor do que nada. Era razão de contentamento, esses tufos desordenados de cabelo. Sinto-os agora, a fazer-me cócegas no fundo da nuca, debaixo do rebordo do tubo de plástico, mas não me consigo mexer. Posso pensar em levantar o braço, mas fazê-lo mesmo sinto como uma tarefa impossível.
Mas tudo bem, penso. Os meus amigos preferiram portanto não ler os sinais. Reparando nessas aparadelas desajeitadas no fundo do occipício podiam ter concluído: o nosso amigo está a ir-se abaixo. No início, muitos pensaram simplesmente: deve ser por causa deste inverno sombrio – e, efetivamente, esse inverno tinha sido mesmo terrivelmente sombrio. Durante quatro semanas seguidas não houve sol. Chovia sem parar. Devagarinho, resvalei, como em todos os invernos, de volta para dentro do meu corpo de adolescente de há dez anos e senti um buraco negro sugar-me com uma força de tração gigantesca para dentro de uma escuridão profunda e familiar. Ficava mais dentro de casa, esquecia-me de fechar as cortinas, bebia pouca água, tomava duche com menos frequência, tomava cada vez mais café para me aguentar de pé, não conseguia acender o aquecimento com facilidade porque era preciso tirar-lhe o ar, mas não conseguia encontrar aquela chavinha estúpida em lado nenhum e não me atrevia a perguntar a um dos meus amigos se me podia emprestar uma (nem à Ema, porque ela já me estava a ajudar demasiado, achava eu), de maneira que eu deslizava pela casa como um esquimó, embrulhado em cobertores de papa. Lá fora, na rua, as pessoas movimentavam-se como zombies e eu parecia encaixar-me perfeitamente na fotografia, só que, no meu caso, isso não tinha nada a ver com a época. Era o meu estado permanente, o ano inteiro e o inverno era apenas a apoteose dos dias maus. Este corpo, a dançar por cima dos primeiros degraus da escada como o ramo de um chorão, pendurado de um tubo de duche esticado ao longo do patamar da casa de banho, este é o corpo que carrego há anos comigo. Mole, vazio, hirto de pânico, porque já não sei por onde começar.
Numa dada altura, quando já não punha os estojos das lentes no caixote de lixo, mas os atirava simplesmente para um canto do chão de pedra da casa de banho, assaltou-me o pensamento que muitos dos meus amigos simplesmente pareciam aceitar que eu já não era mais do que uma versão mole e indolente do gajo com quem eles iam antigamente para os festivais e as festas, que pagava rodadas de cerveja a um ritmo maníaco, que contava anedotas bestiais, que usava chapéus engraçados, que sacava os copos mais giros do café para os levar para casa. Talvez fosse isso: eles conhecerem alguém que já não existia.
Agora, quando o vinham visitar, viam um rapaz poeirento, apagado, de costas curvadas e com pouco entusiasmo, a emborcar cervejas no seu cadeirão moderno. Um pamonha sem piada e de poucas brincadeiras. Em vez disso, muitos silêncios desconfortáveis e algumas anedotas sem graça que faziam transparecer que me sentia vazio como uma gaita-de-foles rasgada. Por mais anedotas que contasse, ninguém reagia, ficavam penduradas no ar, algures, coladas ao teto, como balões de texto sem rumo. Descobri que os meus amigos, perante o desconforto da tristeza ou do possível embaraço de outros, perdiam rapidamente a coragem de fazer perguntas. Ou esqueciam-se fazê-lo, porque tinham fixado uma espécie de estatuto para mim que nunca mais iria alterar-se. Era este o meu estatuto: ele está muito melhor do que há x anos. Esta frase, repetiam-na e voltavam a repeti-la uns aos outros: “já está melhor do que há dois anos”; “está muito melhor do que há três anos”, e por aí adiante. Se o ponto de referência não muda e esse ponto é o poço mais fundo e mais negro da tua vida, então tudo é progresso. E se assim for, tudo o que só resvala um pouco mas não descarrila por completo, não é problema.
Quando toda a gente veio cá a casa para os meus anos, algures no fim daquele inverno de gaita-de-foles rasgada, falava-se um pouco sobre comprimidos de vitamina D e o pouco efeito que parece ter engolir essas porcarias. Calei- me e pensei: há anos que engulo essas pílulas, todas as manhãs, mais pela ideia do que por sentir algum efeito, mas pronto. A Ema tinha-me dito que, quando se tem a sensação que algo resulta, deve-se continuar a fazer, por mais tonto que pareça. Também podia arranjar um hamster, disse ela uma vez. “Ou um peixe, ou um cão. Assim não ficas sozinho, podem fazer companhia um ao outro.” Ela era a única que fazia sugestões e que fazia perguntas.
“Nós às vezes também estamos cansados,” replicavam os meus amigos, enquanto bebiam um gole de cerveja e tentavam não olhar para as prateleiras cheias de pó das minhas estantes. Eles também passavam às vezes serões seguidos esparramados no sofá como um pano de cozinha exausto a olhar para a enésima série de televisão, diziam.
Também eles de vez em quando mandavam vir comida pela enésima vez ou já não tinham cuecas limpas. Depois riam- se e um deles olhava para os tufos de cabelo na minha nuca, que se aguentavam de pé graças ao último restinho do gel out of bed look que tinha encontrado num boião pegajoso debaixo da minha cama naquela manhã.
– Tudo isso pode ser verdade – disse eu – mas em vossa casa a cabeça de chuveiro ainda funciona.
Quando disse isso ficaram todos com um olhar surpreendido e apanhado ao mesmo tempo. Eu quis bater na mesa de jantar com a mão aberta e cuspir e gritar que já não sabia por onde começar, mas não fiz nada disso.
Alguém teria começado a falar sobre ajuda profissional ou um psiquiatra e isso não me apetecia. Já tinha experimentado, mas a mulher tinha-me dito que todas as manhãs, antes de me levantar, devia tentar sentir “o que eu queria” e isso era precisamente o que eu cada manhã não conseguia fazer, pelo que dava em doido comigo próprio. Portanto, não fiz nada e olhei como um cão maltratado para o quartinho do lado, do qual, para minha irritação, tinha deixado a porta aberta. A quantidade de caixas de pizza e de grades de cerveja que lá estavam amontoadas fizeram-me sentir de repente enjoado, angustiado e com tonturas. Um pouco a mesma sensação que tenho agora, com esta coisa à volta do pescoço, embora pensasse que isto fosse mais rápido, que o tubo me levasse logo desta para melhor, ou que o meu pescoço se partisse logo, mas não. Talvez seja este tubo de plástico, talvez seja demasiado flexível.
Alias, a Ema percebeu o que eu quis dizer com a cabeça de chuveiro. Uma tarde, apareceu sem mais nem menos à minha porta e foi logo lá para cima. Tirou a cabeça do suporte, desenroscou-a do tubo e olhou para as rodelinhas amareladas de calcário que se tinham formado nas anilhas de borracha mole. Anilha a anilha, foi tirando o calcário com as unhas. Quando acabou, abriu a torneira e mostrou-me que a água estava novamente a jorrar da cabeça como devia ser. Pareceu tão simples quando ela fez isso.
– Isto dá logo a sensação de que fizeste alguma coisa mesmo. É como lavar a porta do duche, às vezes é agradável poder olhar através dela – disse com um sorriso, dando-me a cabeça, para que eu visse. – Podes tomar banho durante umas semanas sem precisar de fazer isso.
Há um buraquinho ou dois que podem entupir mas isso não é problema nenhum, em princípio. Podes continuar a lavar o cabelo, a ensaboar as axilas e depois do duche limpar a parede. É bom, não é? Tens um pano? Podemos limpar tudo.
Nessa tarde limpámos a casa toda.
Depois de toda a gente sair dos meus anos e de ter fechado a porta, fiz o que fazia sempre: fingi que ia fazer alguma coisa dentro de casa e arrastei-me pelo chão da sala de estar até à janela. Abri a janela o mais suavemente possível e escutei-os a falar na rua.
– O que é que se pode fazer?… Certas pessoas têm isto para sempre.
– É a vida dele, não é malta? Não podemos fazer mais do que isto.
– Fico feliz de cada vez que o vejo, só por ver que ainda está vivo.
– Talvez esteja muito feliz assim! Já pensaste nisso? Talvez não queira mesmo ter uma namorada e talvez não queira todas essas coisas que nós queremos! Pode ser, não é? Quer dizer… nós fazemos muito, mas talvez seja absurdo o que nós fazemos…
– Pois é, lá está. É mesmo isso. E lembras-te como já foi, não é? Houve tempos em que ele dormia numa cama cheia de beatas, num quarto cheio de grades de cerveja vazias. Isto é um salto em frente.
– Mas, se for pior da próxima vez, vamos fazer alguma coisa, combinado?
– Está bem, está bem... Fazemos. Combinado.
Já tinham dito coisas dessas antes, mas depois do meu último dia de anos, há alguns meses, senti-me de repente diferente. Senti-me um rafeiro para o qual as pessoas olham carinhosamente desde que esteja a uma distância suficiente, mas do qual não se aproximam, por medo que o animal lhes morda a valer. Deitei-me de costas, fiquei a olhar um bocado para o teto, levantei-me e olhei fixamente para as janelas por lavar, cuja sujidade se via nitidamente à luz dos postes de iluminação da rua. Depois, fui para a cozinha e vi os pacotes de Cruesli vazios na bancada. Estou demasiado cansado para morder, pensei, realmente cansado demais. Mas a vida não pode ser isto. Desde que a Ema veio fiz uma rigorosa manutenção. Cada vez que limpava cada um desses buraquinhos por onde saía a água – o que pode parecer uma ocupação muito fútil – sentia-me como naquela noite depois de termos arrumado a casa toda. Por um instante era outro rapaz noutro corpo. Ela até tinha conseguido convencer-me a pôr umas calças de ganga. Estava com medo que já não coubesse nelas, mas consegui. Ela olhou-me alegremente quando como um palhaço enfiei as pernas nas calças, fechei o fecho éclair e apertei o botão.
– Estás a ver, disse ela, cá estás tu!...
Agora, a cabeça de chuveiro já está há algum tempo apertada contra a minha bochecha direita, de perto consigo ver bem que mesmo mais nenhum buraquinho entupiu.