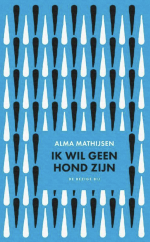A procura não começa de forma consciente. Sinto-me ligada a ela de uma forma perturbadora, inexplicável, e o seu desaparecimento deixa-me sozinha frente às minhas interrogações. Ao acordar pergunto-me onde dormirá e como vive e continuo a pensar nela, masturbando-me doce e suavemente entre os lençóis enquanto olho para as nuvens pela janela basculante. Quando passo pelas barracas de fruta no nosso bairro, vou tocando nas laranjas com as pontas dos dedos, até que encontro uma que me lembra a sua pele, uma com os poros perfeitos.
Aterrei nas suas aulas de yoga devido às minhas constantes dores no pescoço. O fisioterapeuta aconselhou-me esse tipo de yoga, o método Iyengar, porque utiliza acessórios seguros para principiantes que sofrem de esgotamento como eu. Entrei no estúdio e fiquei logo rendida ao ver as cordas, os blocos e as almofadas empilhadas ordenadamente contra a parede. Fiquei rendida à promessa de controlo e domínio que emanava delas. Mas apercebi-me rapidamente de que esses atributos serviam exatamente para eu abrir mão do controlo. A única coisa agradável dessa primeira lição foi a postura savasana no fim da aula, em que podíamos fingir que estávamos mortos. A imobilidade deliciosa dessa posição deitada, enquanto ela passeava entre os nossos cadáveres. Continuem a respirar, sigam a vossa respiração como se fosse um fio que passa pelo nariz e segue pelo lábio superior. Concentrem-se na respiração.
Senti logo uma aversão pelas outras alunas, pela maneira como planavam pela rua com os tapetes enrolados debaixo do braço, pelas suas vozes lentas, pela forma como se sentavam em posição de lótus contra a parede antes do início da aula… sonhava arrancar-lhes as garrafas de água coloridas e vê-las fazer beicinho. Odiava todas as pessoas do yoga que estavam à minha volta, menos ela. Era a maneira como ela apanhava o cabelo preto, forte, em cima da cabeça, num carrapito que, ao longo da aula, ia descendo suavemente até que o elástico se soltava e a cabeleira se espalhava pelas costas. Era a sua figura pequena e altiva, a tranquilidade da sua posição de alfaiate, a sua natureza.
Era a combinação disto tudo, a maneira como enfiava a camisa nos leggings ao fazer a vela, esse gesto pudico da mão, a maneira como esticava os dedos curtos dos pés e os espetava no tapete, como se fosse o pezinho de uma osga. Era como se algo que normalmente está separado, algo que não se consegue juntar por maior que seja o esforço que se faça, de repente encaixasse.
Esse cabelo…Cheirei-o pela primeira vez quando fizemos as duas um exercício. Muito gosta disso o pessoal do yoga, de fazer exercícios aos pares. Felizmente ela fazia esses exercícios quase sempre comigo, porque as outras alunas tinham medo da minha tendência para controlar e da minha rigidez irremediável e formavam logo pares entre elas pelo que eu ficava sozinha. Aí, mantinha-me o mais quieta possível enquanto ela puxava os meus ombros para trás, empurrava as minhas vértebras para baixo ou apoiava a minha nuca e debitava a sua sabedoria de yoga. Está tudo ligado, tendões e pele, músculos e ossos, se algo na sua postura muda, muda tudo. Entregava-me completamente ao cheiro desse cabelo, cheiro de madeira fumegante, um cheiro que me enlouquecia, imaginava que lhe tirava o elástico e que passava a mão nessa cortina teatral, enfiando os meus dedos por entre os seus cabelos.
No inverno encontrei-a na rua, surpreendida por vê-la vestida sem ser com roupa de yoga, por essa nova combinação com a cor da sua pele e dos olhos, uma combinação que não era menos harmoniosa. Descobrimos que morávamos no mesmo bairro. Enquanto ela contava como tinha aterrado aqui, eu olhava para o seu lenço ocre e imaginava-a deitada no chão e eu a cruzar as pontas do lenço debaixo das suas omoplatas e a levantá-la, até que o tecido se estendesse e eu lhe esticasse a coluna vertebral, devagar, vértebra por vértebra, exatamente da mesma maneira que ela tinha feito comigo com uma corda, na aula da semana anterior. Não sei por que esse gesto me comoveu tanto. Esse puxar. Respirar e deixar ir, dizia ela enquanto fazia força. Ao reter a respiração, o corpo entra em pânico. Continuar a respirar significa que está tudo bem e o corpo se adapta.
Passada uma semana ela mandou-nos atar as cordas umas às outras e passá- las pelos anéis de metal na parede. Depois enredávamo-nos naquelas teias como se estivéssemos prisioneiras. Pura rendição, esse respirar de cabeça para baixo, uma forma de submissão. Depois do exercício ela baixava as luzes do teto e mandava-nos descansar sobre os tapetes. Eu espreitava por entre as pestanas. A luz amarela, o som da chuva a bater nas janelas, esse cabelo apanhado em cima da cabeça, tudo se ordenava à volta do seu perfil, forte e taciturno. Sentia os fluidos descer pelo meu corpo e pensava na casa onde tinha crescido, nos dias luminosos e alegres quando era criança. Pensava na minha família nessa casa, a percorrer os quartos que eram menos pequenos, menos escuros do que me parecem agora. Quando é que tudo isso mudou de geração? Desde quando é que essas pessoas têm rugas e os móveis parecem cheios de pó? O pé dela com os dedos esticados ao lado da minha cabeça e a sua voz; a primeira causa do sofrimento; não há certezas, tudo se altera.
Dois meses mais tarde surgiu a pandemia e o mundo alterou-se efetivamente. O estúdio de yoga fechou e ela desapareceu da minha vida. Mas não foi um verdadeiro desaparecimento. Prefiro encará-lo como uma alteração. Tal como uma chave não desaparece, mas passa para outro lugar, tal como os nossos pais morrem e nós descobrimos, anos mais tarde, os rastos que deixaram no nosso pensamento. Ou como uma nuvem muda de composição. Mas, se ela não desapareceu, onde é que está?
Começo por andar à procura dela no bairro. Passeio nas ruas vazias, ao longo dos expositores vazios das lojas fechadas, dos cafés escuros com os bancos do bar arrumados em cima do balcão e pergunto-me o que ela estará a fazer. A praça onde antes havia mercado todas as manhãs está deserta sob o sol. Cacos de vidro estalam debaixo das solas dos meus sapatos. Passo pelo cruzamento onde nos tínhamos encontrado e dobro a esquina, presumo que ela mora algures por aqui e olho à volta. Plantas à janela, lombadas de livros descoloridas, cheira-me a sopa e a água da louça. Um ninho de saudade compõe-se no meu estômago.
A caminho de casa passo por uma livraria e o meu olhar fixa-se num livro de bolso na vitrina da porta. “Impermanence is good news” é o título. Um sabor estranho aparece-me na boca. Algo de indefinível parece estar a deslocar-se no meu corpo. Paro. Penso: continua a respirar, o corpo adapta-se. A sensação desaparece e eu continuo o passeio.
Pergunto-me se não terei começado novamente a tentar controlar tudo. Só que isto não é uma busca neurótica, é antes uma expectativa, um desejo difuso.
Comecei a mexer-me mais livremente e é evidente que a nuca me dói menos. Às vezes esqueço-me da dor quando estou a comer curvada ou me debruço para apanhar algo do chão. Sinto-me estranhamente descuidada nestes dias – será por falta de contacto social? Entorno o café na camisola em vez de o levar à boca e tenho vontade de vestir roupa mais solta, calças menos apertadas.
Sandálias em vez dos meus eternos sapatos de atacadores. Ainda por cima olho à volta, nunca olhei tanto à minha volta ao passear, eu que antigamente me deslocava decididamente de um ponto para o outro. Olho para cabos elétricos estendidos por cima das ruas, para uma planta trepadeira na fachada duma casa senhorial e penso nas cordas no estúdio de yoga. Imagino como a minha mão se perde no cabelo dela, se fecha num punho na doce abundância e puxa a cabeça dela para mim.
A primavera começou agora a sério e saio pela primeira vez sem casaco. Paira um ar grosso e saturado entre os edifícios, já não estou habituada a esta diluição das fronteiras entre o fora e o dentro. A minha dor na nuca desapareceu completamente e estico os braços para trás, desfrutando esse movimento, essa respiração de peito aberto. A procura dela tornou-se de tal maneira parte integral dos meus passeios que o faço sem pensar, como um hábito cujo objetivo se esqueceu, ou como um animal que segue o seu caminho instintivamente.
– Está a seguir rastos? – pergunta um rapaz, quando atravesso um beco onde suspeito que ela mora. Sobressalto-me.
– Não – digo, e depois, concentrando os meus pensamentos: – Procuro uma
senhora que mora aqui.
Ele está ao pé de uma porta aberta, a desdobrar caixas de cartão. Mais à frente um gato arrasta-se entre os carros silenciosos.
– Como é que ela é?
Acho difícil responder, é difícil lembrar as caras porque se alteram constantemente.
– Pequena – acabo por dizer. – Cabelo comprido, escuro. Fisionomia oriental.
– Tem uma foto?
– Não.
Olhamo-nos nos olhos. Ele empilha as caixas contra a parede e prepara-se para entrar na casa.
– Tive aulas com ela – acrescento, como se isso explicasse tudo.
Nessa noite penso novamente nela quando estou na cama. É cada vez mais difícil visualizá-la, mas o difuso não cria distância, pelo contrário, ela parece mais perto do que nunca. Sinto o orgasmo como um abrir de guelras.
No dia seguinte vagueio em direção ao parque e aí acontece algo estranho. Sento-me na relva debaixo de uma árvore e, sem pensar, dobro as pernas debaixo de mim. Nunca fiz isso antes. As minhas articulações costumam doer quando me sento na posição de alfaiate, mas agora estou aqui tranquilamente de joelhos, a olhar à volta, com os ramos pesados do castanheiro a abanar por cima da minha cabeça. Levanto-me e dou a volta à árvore. Ando de uma maneira diferente? Olho para os meus dedos nas sandálias e sinto novamente essa deslocação ténue no meu corpo. Mexo o pé, afasto os dedos uns dos outros, são mesmo meus, no entanto alguma coisa mudou, não me lembro de ter visto estas sandálias antes. Ponho o lenço à volta dos ombros e saio do parque, levantando os pés e refletindo.
De repente deixo de saber do que estou à procura. Respiro o ar da primavera e sinto-me revigorada, mais descontraída do que me senti desde há muito tempo. Tudo o que encontro no meu caminho tem uma surpresa agradável para me oferecer, a erva descuidada entre as pedras da rua, o tinir dos talheres nos pratos que se ouve atrás de uma janela aberta. A respiração como um fio através do meu nariz. Vagueando, descubro um beco onde nunca tinha entrado antes e vejo a torre da igreja de um ângulo desconhecido. Entro numa padaria e a vendedora saúda-me como se fosse uma conhecida chegada. Não me lembro de a ter visto antes. Não falo com quase ninguém desde o início da pandemia e comove-me a sua familiaridade.
Esta manhã levanto-me tarde e sento-me um instante entre as plantas e os livros no parapeito da janela. Olho para o sol nas paredes caiadas do outro lado da rua, para um lençol pendurado numa janela a secar, flutuando ao vento. Estendo depois o meu tapete e para acordar ponho-me em adho mukha svanasana.
Quando abro a caixa do correio, o vizinho sai de casa.
– A semana passada passou por aqui alguém que perguntou por ti.
– Quem foi?
Ele encolhe os ombros.
– Uma mulher, muito magra, de cabelo curto. Disse que tinha tido aulas contigo.
– Que estranho – respondo e por um momento sinto-me perder o equilíbrio.
Como se tivessem puxado uma corda. Afasto o cabelo da cara, tiro o elástico que está à volta do meu pulso e ato o cabelo em cima da cabeça. A seguir, enfio a máscara por cima do nariz e saio para a rua, as solas das sandálias a estalar nas pedras.