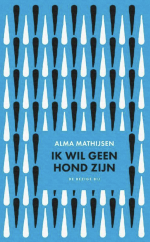Debaixo da nossa pele há mundos inteiros. Se é que se pode confiar nas ilustrações. Às vezes não tenho a certeza. Agarro na minha clavícula. Fica toda espetada para fora quando encolho os ombros. Faço isso muitas vezes. A clavícula é um ossinho sólido mas fino. Podia parti-lo. Talvez não com as mãos nuas, mas se lhe desse uma pancada com um objeto pesado, com aquela estátua de pedra maciça, por exemplo... Aí era de certeza. Não é preciso muito para acabar com tudo. Basta engasgarmo-nos uma vez e já está. Para onde é que vão os bocados de comida que entram no canal errado? Além das amígdalas penduradas no fundo da minha boca não consigo ver nada.
Estou deitada no sofá, com o computador quente em cima da barriga, demasiado quente, no fundo, e vejo os meus dedos que estão a escrever isto, mas quem me diz que são os meus dedos? Olho para as minhas mãos e parecem-me demasiado afastadas do corpo. Aí um metro e meio à frente. Mas os meus braços não são assim tão compridos. Com a mão direita toco na minha sobrancelha. Consigo fazer isso. Metro e meio, se não for mais, vencido de uma vez só. O meu braço é elástico? Enquanto penso nestas coisas, há uma outra parte de mim que observa à distância e que diz: “Pronto, agora é que estás mesmo maluquinha, não é?”
Olha à tua volta e diz-me mais uma vez que tudo isto é devido a um desequilíbrio químico dentro do meu cérebro. Olha para os fetos que vão ficando castanhos e se encaracolam sob a enésima onda de calor; os zângões que adoecem com os inseticidas que quarenta anos mais tarde ainda estão no solo; os frangos que fazemos deslizar pela fábrica fora, pendurados em ganchos, de cabeça para baixo, como se fossem troféus numa feira; os homens de bata branca que lhes cortam rotineiramente o pescoço; as pessoas que se escondem em caves quando ouvem novamente o barulho de mísseis; aqueles que vão à rua com cartazes cortados de caixas de cartão: Nunca se esqueçam que mobilizam blindados, helicópteros, soldados e armas de fogo, não contra os barões da droga mas contra a própria população; aquele que grita “É a minha filha! A minha filha!” ao polícia imperturbável que segue o seu caminho como se não tivesse ouvido nada.
Entretanto o meu computador zumbe em cima da minha barriga. Desde o golpe de estado, há três meses, o exército de Myanmar assassinou mais de setecentos civis. Durante protestos na Colômbia foram mortos em duas semanas trinta e sete manifestantes por agentes de polícia. É 9 de maio de 2021. Em Israel festeja-se o Dia de Jerusalém, o que significa que na rua se gritam slogans anti-árabes e que se assalta uma mesquita. “Estava bom tempo hoje”, diz o presidente da câmara de Lampedusa onde, no espaço de um dia, chegam mais de mil e quatrocentos migrantes. Toda a gente entra na minha sala pelo ecrã. Não sobra uma única cadeira. A distância entre o que sei e o que posso alcançar com as mãos é demasiado grande.
Em adolescente vivia de calças de poliéster em tons pastel: verde-clarinho, azul-clarinho, cor-de-rosa-clarinho. Quando comecei a sangrar, tive de manter a presença de espírito. Foi o segredo que fez de mim uma mulher. Assim que isso se tornou visível, tornei-me um monstro. Ao remexer os armários da casa de banho encontrei um pacote de tampões da minha mãe, formato Super. Isto é que era a sério. Não eram aqueles meus Minis infantis com desenhos de florzinhas no plástico.
– Esses não são para ti – disse a minha mãe. – São para mulheres adultas que já tiveram filhos.
Ela não compreendia que havia algo de abjeto dentro de mim, que eu devia esconder custasse o que custasse. Comecei a roubar os Super, um de cada vez, e guardava-os para ocasiões importantes: aula de ginástica, campo de férias de verão, nadar com as amigas na piscina ao ar livre. Não acredito que ela se tenha apercebido. Até que estava uma vez à noite na casa de banho e, depois de colar o penso nas cuecas, puxei pelo cordelinho do tampão e não aconteceu nada. Puxei mais uma vez. Estava firme como uma parede. Algo dentro de mim estava preso e não queria relaxar.
A minha mãe estendeu uma toalha no chão de ladrilhos. Deitei-me de costas, com as plantas dos pés no chão e os joelhos dobrados, bem afastados
um do outro. Estava deitada como ela tinha estado deitada catorze anos antes, quando outra pessoa olhou para dentro das pernas dela para ver se a minha cabeça já estava à vista. Agora a parte de trás da minha cabeça estava apoiada na fria tijoleira cinzenta. A minha mãe agarrou a minha pele, puxou-a suavemente para o lado e para cima, mas nada.
Uns minutos depois, vestida com umas calças largas de jogging, estava sentada no lugar do passageiro, a caminho do hospital. A cada lomba da estrada, gemia de dor. Na sala de espera da Urgência cruzei as pernas.
Ninguém devia ver o que se passava dentro de mim. Folheei umas revistas femininas amarrotadas. Dietas, roupa, música pop, posições de sexo.
– A senhora?
– O médico era jovem e bonito e tratou com muita sensibilidade a situação delicada em que me encontrava. Um pouco de sensibilidade a mais.
– Diga-me se prefere que seja uma médica a vê-la – disse. – Tem a certeza que está pronta para isso? Dói? Quer que paremos um pouco?
Eu só queria que ele tirasse aquela coisa de dentro de mim. Às vezes volto a sentir isso. Que está dentro de mim uma coisa que tem de sair.
– Ontem, com El Gordo no ginásio, voltei a ter essa sensação – diz J. Balvin. Estão a fazer um documentário e seguem o artista reggaeton durante uma semana.
– Pensei: bolas, lá começa outra vez esta merda. Como se não estivesses aqui. Como se não estivesses no teu corpo. Lá fora, está tudo bem, mas na tua cabeça não. Por que é que eu sinto esta merda toda?
O músico fala abertamente sobre a sua juventude, os seus demónios e a sua total falta de interesse na política.
– Não sou de direita, não sou de esquerda, sigo sempre em frente. - Sem saber, faz suas as palavras de um político neerlandês mal afamado. A política não lhe interessa, repete. Como se a dor nascesse por si na sua cabeça e ele não a inspirasse quando anda pela rua, onde o pavimento ainda está molhado dos canhões de água e o cheiro do suor dos manifestantes ainda paira no ar.
Esquina a esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande, pero lo tengo en mis manos, canta J. Balvin. Ponho a música tão alta que não consigo ouvir mais nada, fecho os olhos e empurro a pélvis para a frente e para trás.
A meio do dia, quando o manto cinzento me cobre os olhos e os meus bichos-carpinteiros começam a arranhar-me o interior do peito, há só uma maneira de aguentar: o dembow. É o bum-chi-bum-chi pelo qual se reconhece o reggaeton. O batuque foi de África para o Panamá e Porto Rico, através dos escravizados e migrantes, e agora homens de cor clarinhos como o J. Balvin ganham milhões com isso. Mais vale não pensar muito nisso, é um labirinto de relações de poder de onde não se sai. Sem dar por isso, já se fica presa.
É como a gripe: quando temos saúde, não conseguimos imaginar como é estar doente, mas quando caímos de novo na cama, com vómitos e febres altíssimas, sem conseguir mexer um músculo, pensamos: pois, esta merda é assim! E já não nos conseguimos lembrar como era quando não tínhamos dores. Descreve-se a depressão como um nevoeiro, uma carga de água, uma sensação que desce sobre nós e se sobrepõe a todas as outras emoções. Sim, aquele buraco negro. Sim, o vazio. Como se estivéssemos enfiados debaixo de terra, à espera, no frio húmido, de ganhar as forças necessárias para esgravatarmos um caminho de saída pelo relvado acima.
Tenho na mão uma chávena de café de autómato e estou sentada na minha mesa de trabalho, na segunda fila da sala de aula. Ao meu lado está um estojo preto com fecho éclair, fechado. À minha frente, em cima de um jornal aberto, uma toupeira morta. As suas patas pendem moles por cima de um artigo sobre o Banco Central Europeu.
Alguém liga o projetor.
– Bem – diz o senhor Raposo. – Para começar, agarrem todos no bisturi e vão cortar, cuidadosamente, desde o ponto por baixo do pescoço, acima da caixa torácica, até abaixo, até ao ânus. Atenção: é preciso exercer alguma pressão porque a pele é rija, mas se se fizer pressão a mais, corta-se até aos intestinos e o resultado é um monte de porcaria.
Através das minhas luvas de látex sinto o frio do animal, debaixo da sua pele suave. Apetece-me encostar a cara ao corpo dele, como faço com os meus gatos. Cada vez que avanço uns centímetros com o bisturi, tenho de pôr serradura na ferida. Absorve a humidade, o sangue, o muco.
Faço pressão a mais, claro. Rompo o peritoneu e as tripas saem cá para fora pelo corte fininho. Não há problema, tenho simplesmente de continuar.
Tenho de libertá-la do seu casaquinho. Separar as patas das ancas, com uma tesoura. Os ossos fazem um barulho parecido com uma braçadeira de plástico: sólidos, duros, até que de repente cedem. Quando chego ao crânio, tenho de agarrar novamente a tesoura para cortar muito cuidadosamente a pele junto dos olhos. O cérebro é que tenho de o tirar com uma pinça. Olho fixamente para as placas do teto e tento continuar a respirar tranquilamente. Não consigo olhar para a imundície cor-de-rosa claro que escorre pelo lado de trás.
À tarde há um cheiro na sala. Não de podridão, nem de carne. Tem algo de esterilizado, com uma ponta de uma dor antiga. É assim que cheira a morte, penso para comigo. Tiro a pele solta do recipiente com os produtos químicos e viro-a do avesso. Vou-me sentar no banco à frente da máquina de escovar, carrego no pedal com o pé e ponho o lado interior da toupeira contra a roda de escovar que gira como louca.
– Muito bem – diz o senhor Raposo. – Trata de tirar toda a carne, mesmo nos cantos mais escondidos. Estás a ver, aí junto à pata?...
Exatamente.
Umas semanas depois daquela noite na Urgência tive de voltar ao hospital. Uma consulta de ginecologia. O meu hímen era demasiado apertado. Tinham de cortá-lo, senão iria continuar a dar-me problemas. Doeu só um bocadinho. A seguir deixaram-me escolher um presente na loja dos brinquedos. Escolhi um moinho vermelho, que prendi no parapeito da janela aberta. Durante anos contava às pessoas que perdi a virgindade no hospital, com uma tesoura. Mais fácil assim, ria. Não tinha de escolher aquele ser especial que iria rasgar-me, já estava resolvido. Clinicamente e limpo.
Como muitos artistas, J. Balvin dividiu-se em dois. Por um lado, a estrela mundial, um artista de êxito, rodeado de mulheres, com as roupas mais caras, as motas e os speedboats. Do outro lado está o José, um homem sombrio que às vezes não sai da cama durante vários dias. Um e outro têm pouco em comum. A voz é igual e estão no mesmo corpo. Na mesma cabeça.
Não é assim tão fácil matar alguma coisa e fazer com que fique morta. Sem darmos por isso aparecem os vermes, o corpo começa a apodrecer, continua a crescer e a respirar. A toupeira tem de ter o mesmo aspeto que teria se tivesse acabado de sair de um buraco na terra, mas tem de estar limpa como uma boneca de plástico. Precisa de um novo recheio, feito de serradura e de arame. Com o lápis desenha-se os contornos, para ficar com as dimensões certas.
Empurra-se o arame com o barro para dentro do crânio e depois torce-se o arame através do molde. Enfia-se a pele à volta como se fosse uma fronha apertada. Fecha-se o buraco cozendo-o com fio dental. Quando o animal está completamente empalhado, fixa-se as partes soltas com alfinetes: as mãos, os pés e o rabo. O que seca, encolhe.
Acaricio com a minha mão a pele de veludo da minha toupeira. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. O meu braço tem o comprimento certo hoje. Através dos auscultadores à volta do meu pescoço vibra o dembow: ¿Y dónde está mi gente?