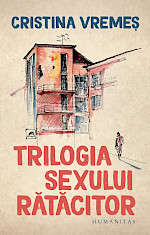Outra cidade
Amesterdão no limiar do outono era colorida e caprichosa. O sol alternava-se com a chuva, e isso repetia-se uma e outra vez tal como Ave-Marias num rosário. Encontrava-me debaixo da ponte, esperando até que um dos breves aguaceiros parasse. Tinha planeado uma viagem de bicicleta pelos arredores de Amesterdão. Quis ver aqueles famosos pólderes - canais de água que cruzam os prados verdejantes dominados por moinhos de vento que esticam os seus braços, feito uns espantalhos no campo. Era suposto ser a minha primeira viagem na nova cidade. A primeira experiência que de alguma forma inicia a amizade entre mim e este lugar, num país reputado pela arquitetura de topo, onde me planeei instalar por algum tempo.
Trabalho arranjei no escritório de arquitetura SeArch, famoso pelas suas práticas pioneiras de projetar, e que incorporou esse conceito também no seu nome. Eu estava interessada em trabalhar com transmateriais e elementos de construção, incluindo hardware, software ou componentes elétricos. Estava interessada em projetos que exploravam formas não tradicionais de construção. Uma das obras mais famosas deste escritório foi a Villa Vals - casa de família nos Alpes suíços embutida numa encosta e semelhante a uma cratera de meteorito ou a um satélite iluminante que recebe luz durante o dia e à noite a irradia de volta para os arredores. No escritório eu podia participar numa competição para um novo museu, cuja fachada consistia em painéis móveis alumínico-plásticos sensíveis ao calor solar e humano. Tive a oportunidade de explorar uma nova abordagem ao projetar edifícios administrativos ou refletir sobre o espaço interior da sinagoga, o qual se replica para o exterior do edifício. Todos os projetos eram interessantes, cada um mais que o outro, o que era ainda mais agradável devido ao facto de os clientes holandeses exigirem arquitetura – ela era para eles algo natural, assim como as reportagens sobre ateliês jovens e promissores todas as noites no Telejornal.
Trabalho então já tinha, mas casa ainda não. Amesterdão era conhecida pela sua muita procura e uma oferta desesperadamente pequena de alojamentos. Por enquanto eu ainda podia ficar alguns dias no apartamento da sobrinha do Rein Geurtsen - arquiteto e urbanista de Delft, que ocasionalmente costumava dar palestras na Faculdade de Arquitetura de Praga. Era um apartamento tipicamente holandês, com uma janela para a rua do tamanho de uma vitrine. Fechar as cortinas não fazia sentido, pois era a única fonte de luz para o espaço profundo e estreito, que se encolhia na penumbra de manhã à noite. Assim tornei-me parte da rua, da qual ocasionalmente recebia olhares volúveis dos transeuntes, que procuravam por quaisquer estímulos visuais enquanto andavam pela cidade. Era um ambiente muito mais afável do que o quarto em miniatura da pousada de juventude, cujas paredes estavam pintadas com bolor e a carpete passava alegremente a água para as meias. As pinturas abstratas das paredes, com as quais até o Boudník ficaria feliz, eram o resultado da humidade omnipresente, da qual não se conseguia escapar naquela proximidade íntima dos canais de água.
E nem era possível escapar das nuvens neuróticas que a cada momento lançavam chuvadas inesperadas para o chão. Saí para um passeio, conseguindo-me esconder algumas vezes por debaixo das pontes, mas no final fui apanhada e encharcada até à pele. Um regresso não fazia mais sentido, então continuei a andar de bicicleta por entre canais, com habitações flutuantes a dançar, e estreitas casas pitorescas de tijolos, como ilustrações de um livro infantil. Durante uma das muitas chuvadas, fiquei parada sob um alpendre que pertencia a um dormitório estudantil. “Estás à procura de alojamento?“ perguntou-me um jovem em inglês ainda antes que eu conseguisse olhar em volta e avaliar o prédio como um compacto quebra-cabeças de contentores habitáveis. “Estou“ ouço-me responder e logo estou a receber informações do jovem sobre um lugar aqui no dormitório estudantil que ficou disponível, e que para o mesmo está a ser procurado o inquilino mais adequado. Com esse objetivo está a ser organizada uma festa hoje à noite. “Vens?“ “Vou.“ “Great.“ “See u.“ Ótimo. Às seis aqui. Esqueço a viagem planeada e parto para me trocar e voltar cá em algumas horas.
O dormitório estudantil é um longo corredor preto com inúmeras portas para os quartos individuais, seguido de uma escada bem pintada a spray com desenhos coloridos e inscrições das quais nenhuma ponte ou barreira de ruído teria vergonha. A música toca no máximo e sente-se o cheiro a erva - como em toda a cidade perto de coffee-shops (onde haxixe e marijuana estão legalmente disponíveis, apenas de alguma forma não acertaram no nome da loja). O jovem reconhece-me e põe-me a par das regras da festa do dormitório: É necessário atrair o maior número possível de habitantes locais que decidirão quem dos recém-chegados escolherão para a vaga de "residente". Estou a olhar à minha volta, a festa está em pleno andamento. Cada um segura uma bebida leve, a mais comum é a Heineken (que certamente não se compara a cerveja checa). Concorrentes para o quarto são fáceis de reconhecer. Eles riem mais alto e conversam muito. As raparigas de batons encarnados tentam embeiçar os holandeses magricelas enquanto os rapazes bajulam as moças locais. Esta é exatamente a situação que os introvertidos adoram. Após permanecer uma hora timidamente de pé, sento-me numa poltrona no canto e assisto à agitação em sfumato, como se estivesse a olhar para uma pintura de Rembrandt. Depois de algum tempo retiro-me e vou buscar a bicicleta, sem que alguém dê por isso. No regresso à minha casa temporária, nem sequer um aguaceiro. Paro na ponte, de onde se vê a baía marítima. Os restos de luz preguiçam languidamente no horizonte e infiltram-se nas suas reflexões na superfície. Começo a ficar ansiosa por aqueles pólderes escondidos na relva que hoje não vi. Estou ansiosamente à espera da paisagem, que se estende para mim no seu plano infinito, semelhante à pele da palma da mão finamente enrugada.
Estou no trabalho de manhã à noite e não há tempo para procurar habitação. Durante a semana respondo a dezenas de anúncios. Contacta-me apenas um iraquiano moreno. Encontro-me com o Mohamed pela primeira vez no Oosterpark, mesmo na margem da teia de aranha do sistema de canais convergentes para o centro da zona histórica. Leva-me ao seu apartamento, num prédio com tijolos castanho-avermelhados, janelas de caixilhos brancos, uma escada estreita e íngreme, e com uma penumbra característica. Fui recebida por uma mulher simpática com um lenço a cobrir desleixadamente o cabelo escuro, e pelos seus três filhos. Como descobrirei mais tarde, o Mohamed teve dois dos três filhos com a sua primeira esposa, a qual lhe fugiu para o Irão. Não quero saber o porquê. O próprio Mohamed veio à Holanda como mão-de-obra barata e por cá ficou. Mostra-me um quarto vazio com uma pequena janela para um pátio escuro. “Tenho aqui este quarto com janela,“ diz ele, e os seus pequenos olhos de maroto brilham. Do ênfase na palavra janela apercebo-me que este elemento de construção não é um dado adquirido no centro de Amesterdão. A minha mudança para junto desta família muçulmana cai justamente no meio do Ramadão. O jejum do dia só pode ser quebrado pelo jantar ao anoitecer. Sou convidada para um dos banquetes da noite. Os princípios do Ramadão provavelmente incluem o de não deixar com fome convidados e estrangeiros. A mesa está superlotada de comida típica iraquiana. No meio, encontra-se um torrão enchido de algo, semelhante a um pão grande. “O que há lá dentro?“, pergunto curiosamente. “Uma bomba!“ dispara prontamente o Mohamed e os seus olhos cintilam de satisfação com uma piada bem executada. Todos nos rimos. Depois, comemos, conversamos e vemos o noticiário iraquiano que eu não entendo. Se eu puder chamar algo de lar neste país, será este apartamento com as regras da religião islâmica afixadas no corredor ao lado da porta da entrada e com um quarto cuja janela – ou pelo menos uma parte dela, dá para um céu limpo num momento, e nublado no outro.
A minha cidade que não é minha
“Compro-te lá um gelado,“ disse o meu pai, já sabendo que esse é o método quase infalível de me fazer sair do apartamento. Ele quis ir ouvir o Loreto, mas não quis ir sozinho. Assim que ele disse a palavra gelado, eu disparei para calçar os meus sapatos no corredor, ele sempre mos comprava num número acima. Eu tinha nove anos. Tinham passado três anos desde a revolução, tinham passado dois anos desde a visita do papa. Tinha um ano desde que fora o funeral da minha avó, onde pela primeira vez vi o meu pai chorar. Morávamos num dos prédios inestéticos de habitação coletiva cinzentos, no qual o som do elevador ecoava por todo o prédio como um gemido durante um coito. Morávamos num apartamento que tinha três quartos virados para um jardim com parque infantil e uma cozinha virada para um quintal coberto de vegetação, com três nogueiras robustas e um estendedor de carpetes enferrujado. Árvores de jardim público com ramos baixos, que eram fáceis de escalar, e o segredo proibido do quintal escondido, essa foi a minha infância nos arredores de Hradčany. Até essa altura, em que veio o tal dia. Aquele terrível momento de rutura – a mudança.
Quando estávamos a sair do apartamento, competimos para ver quem desce primeiro. Se o meu pai de elevador ou eu por escadas. O elevador arrastava-se, e antes de ele subir até o piso onde o meu pai o esperava, eu já tinha saído do prédio, e toda aborrecida arranhava o gesso da fachada de Brizolit. Ao sol matinal, algumas partículas na fachada reluziam como pérolas. Deste micro-mundo de gesso com os cumes de montanhas em miniatura, fui arrancada apenas pelo bater da porta atrás do meu pai. Um elétrico passou pela rua transversal e rangeu delicadamente. Cis Fis Ais, diria a minha amiga violinista ao som do elétrico. Talvez diga disparates - isso uma pessoa sem audição absoluta nunca sabe.
Acho que naquela altura já não tinha que usar meia-calça branca, uma saia xadrez e cabelo cortado à tigela. Provavelmente tinha cabelo curto e parecia um pouco rapaz, vestindo roupas herdadas dos irmãos - uma camisa de flanela sobre uma t-shirt desbotada com o Sandokan. Arrastava-me de propósito atrás do meu pai para lhe fugir da vista. Eu podia gozar das poças que permaneciam na irregularidade da calçada. Antes de chapinhar, vi que se rebolavam nelas claras nuvens brancas.
Atravessámos os trilhos do elétrico, passámos pelo edifício do Corpo da Música Central do Exército da República Checa (com os soldados nas janelas parecidos aos edredões postos ao sol), pelo meu antigo jardim de infância, pela afamada escola secundária de Kepler (mas onde a erva é fumada como em qualquer outro lugar) e logo depois fomos recebidos por Pohořelec – um bairro de casinhas baixas renascentistas coladas ao Mosteiro de Strahov. O declive da praça puxou-nos ainda mais, passámos pela igreja com a inscrição de HOTEL com um fast food original, e seguindo ao longo da arcada apertada, e do Palácio de Černín na parte inferior picado por baixos-relevos de envelope e no topo com um desfile militar de colunas coríntias. E já lá estávamos, na Praça do Loreto. Entremeámo-nos no meio de uma multidão de pessoas em pé à frente do barroco exuberante do Loreto e esperámos os primeiros sons do carrilhão. Por um instante concentrei-me nos sinos, depois olhei para o rabo desnudado e gordo do anjo de pedra, e no fim aproveitei a oportunidade para pensativamente mergulhar os pés na poça mais próxima.
Após algum tempo, as poças começaram a alvoroçar-se por si mesmas sem que os meus pés as provocassem. O ar virou húmido, traços de chuva riscaram todo o espaço, o sol desapareceu, e foi como como se alguém tivesse atirado um cobertor molhado por cima da minha cidade. Tivemos que regressar. Não fomos mais ao castelo nem à sua praça, não passámos junto das casas estampadas pelos brasões dos seus donos, nem pela lâmpada com quatro ninfas em ferro fundido (que não sei porquê, me assustavam), nem pelas fachadas pintadas com esgrafito ao ponto de se ficar tonto (pintar aqui não é um termo adequado para a raspagem monótona de gesso molhado), nem à volta de portais com varandas falsas, nem junto aos guardas do castelo (que naqueles tempos ainda não eram difíceis de fazer rir), nem pelo Masaryk de bronze (sob o qual os meus irmãos tocaram Kryl e ganharam dinheiro para a Coca-Cola). E, finalmente, aquela entrée magnífica com que a cidade se apresentava. Com esta entrée ela oferecia-se-nos como um conjunto de construção infantil interminável de telhados, chaminés, pontes, torres e cúpulas. Tal como um lego gigante com o qual se poderia tão bem brincar.
Pelo caminho de volta a casa, eu ficava novamente para trás, mas desta vez já não por querer. Os passos do meu pai estavam-me a fugir, fugiam aos passeios sobrecarregados de poças, à água fluindo nas sarjetas, às fachadas com mapas húmidos, à chuva fechada dentro da cidade. Ele esperou por mim apenas nas passadeiras. O prédio abraçou-nos com o seu familiar hálito seco, um cocktail de cheiros dos almoços preparados naquele dia. Em casa, tirámos depressa as nossas roupas molhadas e deixámo-las acariciarem-se na máquina de lavar em vez de nós mesmos. Eu estava com frio no início frio da primavera, nem me lembrava mais do gelado. Enquanto a máquina de lavar ronronava e pulava nos ladrilhos da casa de banho, olhei da janela para os telhados enxaguados e pressenti – algures para lá donde acabámos de voltar, muito mais espaços misteriosos como um poço, profecias não ditas de caves húmidas, gengivas cavadas de blocos de prédios, pedras de esquina encolhidas. Mas a cidade olhou tudo isso de forma diferente. Estava hirta de medo pela sua dignidade, piscava neuroticamente com a sua CRIL ainda não aberta ao trânsito, começou a sofrer com complexos - administrativos e comerciais - e as corporações multinacionais começaram a lixiviá-la a tal ponto que um dia sobrasse dela apenas amargura concentrada. Mas naquela altura eu ainda não sabia absolutamente nada sobre isso.
Naquele tempo eu tinha nove anos. Onze anos antes de começar a estudar arquitetura (onde aprendi que aquelas pequenas pedras preciosas em gesso de Brizolit eram mica), um ano antes do retorno do meu irmão mais velho do serviço militar obrigatório (frio e estranho, com cabeça rapada, cinto apertado e olhar vazio) e quatro anos antes daquele fatídico momento – a mudança. A mudança para a zona suburbana, onde a cidade se desfia como a borda de um tecido barato. Misteriosos espaços vazios fechados por tapumes de madeira graffitados foram substituídos por periferias assexuadas e pela suposta ordem das casas de família.
Uma vez, na infância, tendo bebido um lugar delicioso, nunca mais o deixarás, porque ele não te deixará a ti. O meu pai traz nos seus olhos a região de Vysočina, com colinas suaves a empilhar-se em camadas ao longe, uma aldeia de macieiras silvestres e um lago, cuja identidade muda a cada verão. Tem na pele gravado um odor a terra, a folhas podres e a paredes de pedra húmidas. As mãos dele gostam mais de pegar a enxada ou lenha bem seca. Ele não deixará de voltar às suas memórias. Tal como eu, que tenho na minha cabeça apenas uma cidade com telhados inclinados, dos quais durante o degelo pode cair uma placa de neve e fazer-te até recuar de susto. Trago em mim cenas dramáticas de relevos de estuque, que podem ser tão facilmente destruídas pela banalidade do isolamento. Nunca me larga o empedrado instável e as brechas com vista para dentro de ruas estreitas e escuras, nem as escadas íngremes nas quais a chuva corre tão furiosamente quanto a água nos rápidos pelas montanhas abaixo. Permanecerão dentro de mim pinturas abstratas de gesso caindo e parapeitos decorados com penas de pombo. Praças barulhentas com penteados de fachadas e silêncio estático de igrejas, mosteiros e bibliotecas.
O amor pela cidade é como uma tosse que não quer passar. E tu sufocando-te. Da ânsia de regressar à tua cidade, que não é tua.